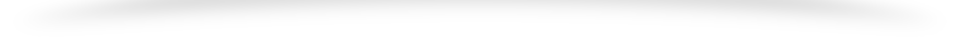Ao fazer minha prova de História do Mundo nos Séculos XIX e XX hoje, me deparei com uma questão que precisei desenvolver. Quais foram as causas, antes do assassinato do Arquiduque Francisco Ferdinando, para a Primeira Guerra Mundial? Ao responder a essa pergunta, não pude deixar de notar as semelhanças com o momento histórico no qual vivemos. Abaixo eu copio uma parte da minha resposta, juntamente com minha análise do cenário atual.
Pode um único assassinato desencadear a morte de milhões de pessoas?
O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, em Sarajevo, em 28 de junho de 1914, provocou a maior e mais mortal guerra que o mundo já havia conhecido. A Grande Guerra, ou Primeira Guerra Mundial (1914-1918), como seria chamada mais tarde, foi o resultado de um complexo conjunto de fatores, cuja última gota d’água foi o assassinato de Francisco Ferdinando. Como destaca a historiadora Andrée-Anne Plourde (minha professora), “se o acidente de 28 de junho de 1914 teve consequências tão graves, foi porque surgiu em um contexto que já carregava em si virtualidades de guerra. Em outros momentos, o mesmo acidente teria causado comoção na opinião pública, mas não teria tido consequências tão sérias.” (Plourde, HST-1008, sessão 5).
Causas
Os primeiros “baldes de água” no barril da Primeira Guerra foram consequência da rivalidade econômica e imperialista entre as nações europeias. A Alemanha estava se tornando cada vez mais uma potência industrial, desafiando a dominação econômica do Reino Unido e da França. A Alemanha demorou mais para se industrializar (comparada à Inglaterra e à França), mas quando o fez, colocou as potências dominantes em alerta. Com sua industrialização, também aumentou sua riqueza e sua influência em outros territórios. Como destacou Plourde, “à medida que diminuíam os territórios a conquistar, a rivalidade entre a Alemanha e as outras metrópoles crescia.” (Plourde, HST-1008, sessão 5).
A Alemanha combinava um forte protecionismo comercial com uma política agressiva de expansão, o que criava ainda mais atritos com as potências já estabelecidas. Como explicado no livro Introdução à História do Nosso Tempo, enquanto a Inglaterra aboliu o protecionismo em 1846 e o Ato de Navegação em 1849, “a Alemanha, pelo contrário, combinava uma política de exportação semelhante à do Reino Unido com uma política de fechamento do seu mercado interno; ela associava o monopólio do mercado nacional à conquista do exterior.” (Rémond, t. 3, 2002, edição digital, Kindle, capítulo 1.1). Essa corrida imperialista não apenas aumentou as rivalidades econômicas, mas também intensificou as tensões diplomáticas e militares entre as grandes potências. Rémond menciona um sentimento de “estar cercada e sufocando” (Rémond, t. 3, 2002, edição digital, Kindle, capítulo 1.1).
A Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, em 1882, foi outro “balde de água” no barril. Essa aliança tinha como objetivo conter a influência da França e da Rússia. Em resposta, França e Rússia, junto com o Reino Unido, formaram em 1907 a Tríplice Entente. Essas alianças não apenas dividiram o continente europeu, mas criaram uma situação em que qualquer conflito localizado poderia se expandir rapidamente. Um ataque contra uma dessas nações seria um ataque contra todas. A militarização na Europa crescia continuamente. Dois elementos característicos se destacam, conforme Rémond ressaltou: “os sistemas de alianças e a corrida armamentista.” Cada Estado aprovava mais leis militares, reforçava seus arsenais e desenvolvia novas tecnologias de guerra. Na verdade, o barril d’água era um barril de pólvora.
A situação nos Bálcãs também era instável. Com o declínio do Império Otomano e as ambições nacionalistas dos novos Estados da região, as grandes potências tentaram ampliar sua influência. A Rússia apoiava os povos eslavos, enquanto a Áustria-Hungria tentava manter seu controle sobre a região. Desde 1905, “os movimentos nacionalistas tiveram um papel crucial na escalada para a guerra“, como destacou Plourde (Plourde, HST-1008, sessão 5).
E foi justamente um nacionalista sérvio que matou Francisco Ferdinando! Daí o Império Austro-Húngaro (com o apoio da Alemanha) enviou um ultimato à Sérvia em 23 de julho de 1914. A Sérvia recusou parcialmente o ultimato, e a guerra foi declarada contra ela em 28 de julho de 1914. Com as alianças militares existentes, esse conflito rapidamente se transformou em uma guerra mundial, pois a Rússia, protetora da Sérvia, mobilizou suas tropas contra o Império Austro-Húngaro. Isso desencadeou um efeito dominó.

©Bianchetti/Leemage
A Alemanha declarou guerra contra a Rússia em 1º de agosto e contra a França em 3 de agosto. O Reino Unido não poderia ficar de fora e entrou na guerra em 4 de agosto, após a invasão da Bélgica pela Alemanha. Como explicado em Introdução à História do Nosso Tempo, “a Europa, às vésperas do verão de 1914, estava à mercê de um acidente que, de repente, ativaria todos esses elementos, cuja acumulação transformava a situação diplomática, política e militar da Europa, em 1914, em uma máquina infernal.” (Rémond, t. 3, 2002, edição digital, Kindle, capítulo 1.1). O barril explodiu!
A história se repete ora como farsa, ora como tragédia
Alguma semelhança com os nossos dias? A Primeira Guerra Mundial deveria ter sido um alerta definitivo sobre os perigos do imperialismo desenfreado, do nacionalismo exacerbado e das alianças militares rígidas. No entanto, a história parece seguir um ciclo contínuo, repetindo-se “ora como farsa, ora como tragédia”. Hoje, vemos dinâmicas globais que, embora diferentes em aparência, ecoam os mesmos padrões de rivalidade econômica, protecionismo comercial, corridas armamentistas e conflitos geopolíticos. Os erros do passado deveriam ter ensinado a necessidade da diplomacia e da cooperação, mas as tensões internacionais continuam a aumentar.
A ascensão do protecionismo econômico, especialmente por parte dos Estados Unidos, lembra o fechamento do mercado alemão no início do século XX. A imposição de tarifas comerciais, as sanções contra países rivais e a tentativa de garantir monopólios estratégicos em setores como tecnologia e energia refletem a mesma mentalidade de competição econômica que alimentou os antagonismos pré-1914. A corrida armamentista, por sua vez, voltou a ganhar força. A China e os EUA expandem suas forças navais no Pacífico, enquanto a Rússia investe pesadamente em novas tecnologias militares, querendo expandir seus territórios por meio da força – contra qualquer Lei de Direito Internacional. A proliferação de drones, armas hipersônicas e avanços na guerra cibernética lembram a obsessão europeia por arsenais modernos antes da Primeira Guerra Mundial.
Além disso, as alianças militares continuam a moldar a geopolítica mundial. A OTAN se expande para áreas antes impensáveis, enquanto novas alianças surgem no Indo-Pacífico, como o QUAD (Quadrilateral Security Dialogue, formado por Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália) e o AUKUS (Austrália, Reino Unido e EUA). Do outro lado, Rússia e China fortalecem seus laços, buscando desafiar a hegemonia ocidental. O mesmo princípio que transformou um conflito localizado nos Bálcãs em uma guerra mundial parece vivo hoje: uma escalada regional pode rapidamente envolver potências globais, colocando o mundo novamente à beira de um desastre.
Diante desse cenário, surge a questão: aprendemos algo com o passado? Se a Primeira Guerra Mundial mostrou que o militarismo, o protecionismo e as alianças inflexíveis podem levar a catástrofes, o mundo de hoje parece flertar novamente com esses perigos. A história nos ensina que quando os líderes falham em buscar diálogo e compromisso, a tragédia se torna inevitável. Cabe à humanidade decidir se o século XXI será uma repetição farsesca dos erros do passado ou se finalmente conseguiremos romper esse ciclo e aprender com as lições da história.